«Isto é selva e na selva só sobrevive a lei do mais forte e, por isso, não vale a pena estarmos para aqui com fantasias e cada um procurará armar-se o mais possível; até no campo político o sucesso depende muito do factor força».
Do arvorado a almirante Rosa Coutinho, presidente da Junta Governativa de Angola em 1974 citado pelo general Silva Cardoso no seu livro “Angola Anatomia de uma Tragédia”.
«Acabaram-se os sonhos. Agora só nos restam as pataniscas e as rabanadas».
De um “retornado” ao desembarcar no fervilhante aeroporto de Lisboa, fugido de Angola, no Verão de 1975.
Antes de 1960 não existia a palavra descolonização. Ela apareceu para explicar a debandada dos europeus de África. Como já afirmámos, o termo mais correcto seria "descolonialismo" uma vez que, exceptuando a Argélia, Angola, Moçambique e Rodésia (actual Zimbabué), não havia colonos nos restantes países de África. O termo descolonização só se pode aplicar aos três primeiros. No Zimbabué não houve descolonização porque o país se auto- proclamou independente em 1966 com um regime dominado pelos colonos. Posteriormente estes abandonaram o país. A África do Sul nunca passou pelas agruras do colonialismo mas acumulou pesares também muito graves, originados pelo apartheid que ali vigorou até 2000.
Portugal nunca considerou que Angola se pudesse tornar independente, por isso sustentou uma guerra, contra as correntes nacionalistas angolanas, durante 13 anos (1961/1974). Era inevitável a emancipação de Angola mas o governo metropolitano convenceu os colonos de que tal não se verificaria. E estes, ingénuos e mal informados, acreditaram. E aquele tentou “segurar” a colónia até onde fosse possível, na esperança de que tudo poderia melhorar com o tempo.
Devido a vários factores, já enumerados em artigos anteriores , Angola em 1974 estava bem estruturada administrativamente mas anulada nos aspectos mais importantes para uma nação: político, diplomático, comércio internacional,cultural , jurídico e militar. Este ultimo era o mais importante para uma independência endógena ou seja de dentro para fora. Na independência teria que ser um exército, genuinamente angolano e coeso, a assumir, posteriormente, a segurança e a defesa, permitindo e assegurando referendos e eleições. E sobretudo não permitindo abusos. Mas isso não sucedeu porque toda a estrutura militar em Angola em 1974 era primordialmente metropolitana. Diz-se que os efectivos militares em Angola já dispunham de mais de 50% de angolanos, mas a verdade é que não os havia no topo da hierarquia militar. Foi pungente ver estes angolanos atarantados, procurando um nicho nos três exércitos que entraram em Angola, referentes aos Movimentos de Libertação. Em resumo: teria que haver um "descolonialismo" porque os colonos também estavam sujeitos aos caprichos de Lisboa. De certo modo estavam colonizados.
Por outro lado as forças militarizadas da Metrópole estavam inquietas após 13 anos de guerra, sem uma solução à vista. A maioria dos jovens em Portugal estava a emigrar, fugindo a uma guerra injusta e despropositada e que, em essência, não lhes dizia respeito. Portugal queria entrar na Europa mas as colónias eram um empecilho.
Em 25 de Abril de 1974 uma parte dos oficiais e sargentos do exército português, após treze anos de operações militares, o período que nós designámos por O Tempo Extra (1961 a 1974), resolveu dar um basta à guerra da independência, ou guerra colonial ou guerra em África, conforme o ponto de vista da cada um. A causa próxima do poisar das armas teve contornos de corporativismo. Durante o período culminante do colonialismo, de 1930 a 1960, o corpo de oficiais do exército português era de elite.O ingresso na Academia Militar estava sujeito a filtros,mais ou menos apertados, conforme as circunstâncias e as vagas. Os ultramarinos, ou seja os naturais das colónias, podiam esperar um filtro tipo chapa de aço. Os oficiais saídos daquelas academias eram de absoluta confiança do governo. Gozavam de prerrogativas elitistas e regalias materiais. A Academia Militar, antes de 1961, destinava-se inteiramente para os metropolitanos e, mesmo estes, passavam por uma rigorosa selecção.
Podemos supor que Salazar alimentava a secreta esperança de que, in extremis, irromperia um qualquer acontecimento internacional que pudesse reverter o quadro “de aguentar” para um quadro a seu favor, menos implicante internacionalmente. Já tinha havido ameaças, em épocas anteriores, e ele sabia disso. Eis algumas dessas situações, já aqui indicadas (no livro), mas que repetimos para frisar a sorte que sempre tinha acompanhado os governos de Lisboa:
-Após o ultimato de 1890 a Inglaterra acabou por proteger as colónias de Angola e Moçambique da cobiça da Alemanha, da Bélgica, e da França. Portugal sempre era um velho aliado e, sobretudo, não tinha indústrias que absorvessem os minérios de África. Portugal era um empecilho às pretensões dos alemães, dos belgas e dos franceses , mas não fazia sombra à Inglaterra. Neste aspecto até convinha aos ingleses a posição portuguesa, esta evitava o predomínio de qualquer outra potência europeia. A viagem do rei inglês Eduardo VII a Portugal, em princípios do século 20, acabou por apagar todos os azedumes provocados pelo Ultimato em 1890.
-Após a guerra 14/18 as colónias continuaram intactas devido à cooperação de Portugal no conflito. Quando chegou a altura do rateio, entre os vencedores, Portugal lá estava entre eles. E, para desenvolver o território, conforme se preconizou na Sociedade das Nações após o conflito, lá foi para Angola, outra vez, Norton de Matos. Foi demitido logo que passou o perigo. Um costume que se repetiria mais tarde. Os ardores desenvolvimentistas passavam logo que o horizonte político internacional se desanuviava.
-Durante a década de 20 Portugal foi acusado de praticar trabalho forçado. Foi publicado o Relatório Ross, em 1925, que provocou comentários acres na imprensa mundial. Chegou a insinuar-se que a Sociedade das Nações deveria intervir. O craque da Bolsa de Nova Iorque em 1929 acabou por desviar as atenções.
-Em 1935 novo sobressalto: Hitler começou a mostrar apetites coloniais, chegou a referir-se às antigas colónias alemãs em África. Angola foi mencionada, como pátria de acolhimento, para os judeus que estavam a ser expulsos da Alemanha nazi. A grande guerra 1939-1945 acabou por salvar, mais uma vez, a presença portuguesa em África. Esta ficou, desta vez, com prazo.
-Durante a guerra 1939-1945 o fim do colonialismo foi preconizado pelo presidente Roosevelt mas a sua morte em 1945 lançou tudo no esquecimento.
-Em 1961, quando houve necessidade de intervir militarmente em Angola, Salazar alimentava a esperança de que ia haver uma terceira guerra mundial e, neste caso, a colónia de Angola permaneceria, como despojos, como sucedeu após a guerra 1914-1918. É dele a seguinte frase, citada por Franco Nogueira(159):«Não entrámos na guerra 39/45 mas de certeza que entraremos na próxima». No fundo talvez ele alimentasse a secreta esperança de um novo conflito mundial, que seria devastador, não tenhamos dúvidas, mas que alteraria profundamente o estado do mundo e do qual talvez se pudesse tirar partido como sucedeu após a guerra de 1914-1918.
Sabe-se hoje que o conflito esteve muito perto de acontecer com os atritos relativos à instalação de misseis em Cuba, em 1962, pela União Soviética.
Antes das guerras africanas iniciadas em 1961, na admissão para a Academia Militar em Portugal eram mais os candidatos do que as vagas. A selecção era rigorosa. A partir do início da guerra colonial em 1961 começou a reversão: eram mais as vagas do que os candidatos. Em termos práticos significa que a guerra iria ser comandada “sempre pelos mesmos”. A situação foi-se agravando e acabou por ficar insustentável. Solução: admitir milicianos como candidatos à Academia Militar. Em alguns casos a guerra acabou por apontar para milicianos com mais atitude militar do que os eleitos segundo as regras anteriores, o que confirmava o elitismo vesgo que existia na admissão àquela Academia.
As vagas na Academia Militar, antes de 1961, eram reservadas só para metropolitanos, e para as famílias privilegiadas. Gilberto Freyre, quando visitou Portugal em 1952 apercebeu-se disso, tendo escrito, a propósito, quando esteve na Índia portuguesa(95):«Só os comandantes e oficiais são metropolitanos e brancos. Outra restrição aos direitos de plena cidadania portuguesa sentida pelo luso-indiano. Desde Cabo Verde que ouço à prática portuguesa de impedir-se ao português nascido no Ultramar ocupar cargos de responsabilidade político-militar e de tornar-se oficial do Exército ou das Forças Armadas; e também a discriminação entre português da Metrópole e português do Ultramar, quando funcionários públicos, para efeitos de licenças ou de viagens a Portugal».
Era inevitável o choque. O Ministro da Defesa, que promulgou os Decretos 353/73 e 409/73, que abriam a inacessível porta da Academia Militar aos oficiais milicianos, era o General Sá Viana Rebelo que tinha sido Governador Geral de Angola de 1956 a 1959. O decreto banalizava o curso de oficiais do Quadro, uma situação injusta e desagradável para quem a Academia era emblemática.
Era a causa próxima para o eclodir de uma revolta. Estavam fartos de comissões todos os oficiais do Quadro e, como prémio, recebiam a desvalorização do curso, com o consequente rebaixamento do status e o atraso em promoções.
A opinião pública mundial não alinhava com as razões apresentadas por Portugal, em querer manter as suas colónias. Até o Brasil, embora nunca tivesse sido hostil, punha as suas reticências quando Portugal “era chamado à pedra” nas instâncias internacionais. O ostracismo do país era mais um motivo para o descontentamento dos oficiais e dos portugueses em geral. Ninguém, no mundo, alinhava com os agonizantes imperialismos, nascidos no fim do século 19. Os jovens na Metrópole estavam a ser castigados com incorporações que lhes obstruíam o futuro.
O governo, nos fins de 60, argumentava que a incorporação de Angola era constituída por mais de 50% de naturais da colónia, mas não elucidava que não existia um único oficial subalterno e, muito menos, um oficial superior africano. Até 1961 nem sequer havia sargentos africanos no Exército português. Só “soldados indígenas”. A incorporação militar angolana era acéfala. Quando foi necessário assumir a defesa das populações, porque o Exército Português se desobrigou “de um dia para o outro”, verificou-se uma insólita debandada geral. Os angolanos militarizados não possuíam uma hierarquização de topo nacional. Obedeciam a uma estrutura superior metropolitana e absentista. Na independência do Brasil isto não sucedeu. Mesmo em Angola até 1947, provindo da 1ª república em Portugal, ainda Angola tinha um exército próprio, com oficiais que ficavam a residir em Angola quando se aposentavam, muito embora centralizado sob um comando metropolitano. Em 1947 o governo de Salazar desmantelou toda a ainda incipiente estrutura militar de Angola e centralizou tudo em Lisboa.
Em 1974 o governo já tinha institucionalizado a guerra. A situação militar na Guiné agravava-se de ano para ano. Aquele país africano é pequeno, mas Portugal continha com dificuldade os focos de insubmissão. Volvidos quase 40 anos, quem lê sobre a guerra na Guiné pergunta-se, perplexo: mas qual o interesse de Portugal em relação à Guiné? Salazar temia o desfecho dominó, pois já existia um precedente na Índia Portuguesa.
Os guineenses eram mais unidos e organizados naquela guerra do que hoje, independentes e em tempo de paz. A guerra é sempre mais fácil de fazer do que a paz. Destruir é facílimo.Agora, construir...
O general Spínola, quando foi governador na Guiné, tentou uma aproximação com os nacionalistas, chegou a dialogar com o Presidente do Senegal Leopold Senghor. Mas esbarrou com a intransigência de Marcelo Caetano ( substituiu Salazar em 1968) que insinuou que era mais honrosa uma derrota militar, como já tinha sucedido em 1961 em Goa, Damão e Diu na Índia. Parece que aceitava a derrota como um fatalismo, tal como sucedera com o seu antecessor Salazar no caso da Índia Portuguesa em 1961.
Logo que Marcelo Caetano assumiu o cargo de primeiro ministro em Portugal em Setembro de 1968, devido à precária saúde de Salazar, começaram as desavenças. Spínola e Costa Gomes, dois generais bem conceituados, queriam mudanças mas Caetano era um irresoluto. Tinha medo de tomar qualquer decisão para o Ultramar, embora tivesse apresentado um Parecer sobre uma federação, em 1962, quando não estava no governo.Não teve coragem de o assumir. Depois, no governo, era contrário às ideias então defendidas (uma federação de estados) e, segundo dizem, não queria que se falasse no tal Parecer. A sua desculpa era a de que o Parecer estava ultrapassado.
Do arvorado a almirante Rosa Coutinho, presidente da Junta Governativa de Angola em 1974 citado pelo general Silva Cardoso no seu livro “Angola Anatomia de uma Tragédia”.
«Acabaram-se os sonhos. Agora só nos restam as pataniscas e as rabanadas».
De um “retornado” ao desembarcar no fervilhante aeroporto de Lisboa, fugido de Angola, no Verão de 1975.
Antes de 1960 não existia a palavra descolonização. Ela apareceu para explicar a debandada dos europeus de África. Como já afirmámos, o termo mais correcto seria "descolonialismo" uma vez que, exceptuando a Argélia, Angola, Moçambique e Rodésia (actual Zimbabué), não havia colonos nos restantes países de África. O termo descolonização só se pode aplicar aos três primeiros. No Zimbabué não houve descolonização porque o país se auto- proclamou independente em 1966 com um regime dominado pelos colonos. Posteriormente estes abandonaram o país. A África do Sul nunca passou pelas agruras do colonialismo mas acumulou pesares também muito graves, originados pelo apartheid que ali vigorou até 2000.
Portugal nunca considerou que Angola se pudesse tornar independente, por isso sustentou uma guerra, contra as correntes nacionalistas angolanas, durante 13 anos (1961/1974). Era inevitável a emancipação de Angola mas o governo metropolitano convenceu os colonos de que tal não se verificaria. E estes, ingénuos e mal informados, acreditaram. E aquele tentou “segurar” a colónia até onde fosse possível, na esperança de que tudo poderia melhorar com o tempo.
Devido a vários factores, já enumerados em artigos anteriores , Angola em 1974 estava bem estruturada administrativamente mas anulada nos aspectos mais importantes para uma nação: político, diplomático, comércio internacional,cultural , jurídico e militar. Este ultimo era o mais importante para uma independência endógena ou seja de dentro para fora. Na independência teria que ser um exército, genuinamente angolano e coeso, a assumir, posteriormente, a segurança e a defesa, permitindo e assegurando referendos e eleições. E sobretudo não permitindo abusos. Mas isso não sucedeu porque toda a estrutura militar em Angola em 1974 era primordialmente metropolitana. Diz-se que os efectivos militares em Angola já dispunham de mais de 50% de angolanos, mas a verdade é que não os havia no topo da hierarquia militar. Foi pungente ver estes angolanos atarantados, procurando um nicho nos três exércitos que entraram em Angola, referentes aos Movimentos de Libertação. Em resumo: teria que haver um "descolonialismo" porque os colonos também estavam sujeitos aos caprichos de Lisboa. De certo modo estavam colonizados.
Por outro lado as forças militarizadas da Metrópole estavam inquietas após 13 anos de guerra, sem uma solução à vista. A maioria dos jovens em Portugal estava a emigrar, fugindo a uma guerra injusta e despropositada e que, em essência, não lhes dizia respeito. Portugal queria entrar na Europa mas as colónias eram um empecilho.
Em 25 de Abril de 1974 uma parte dos oficiais e sargentos do exército português, após treze anos de operações militares, o período que nós designámos por O Tempo Extra (1961 a 1974), resolveu dar um basta à guerra da independência, ou guerra colonial ou guerra em África, conforme o ponto de vista da cada um. A causa próxima do poisar das armas teve contornos de corporativismo. Durante o período culminante do colonialismo, de 1930 a 1960, o corpo de oficiais do exército português era de elite.O ingresso na Academia Militar estava sujeito a filtros,mais ou menos apertados, conforme as circunstâncias e as vagas. Os ultramarinos, ou seja os naturais das colónias, podiam esperar um filtro tipo chapa de aço. Os oficiais saídos daquelas academias eram de absoluta confiança do governo. Gozavam de prerrogativas elitistas e regalias materiais. A Academia Militar, antes de 1961, destinava-se inteiramente para os metropolitanos e, mesmo estes, passavam por uma rigorosa selecção.
Podemos supor que Salazar alimentava a secreta esperança de que, in extremis, irromperia um qualquer acontecimento internacional que pudesse reverter o quadro “de aguentar” para um quadro a seu favor, menos implicante internacionalmente. Já tinha havido ameaças, em épocas anteriores, e ele sabia disso. Eis algumas dessas situações, já aqui indicadas (no livro), mas que repetimos para frisar a sorte que sempre tinha acompanhado os governos de Lisboa:
-Após o ultimato de 1890 a Inglaterra acabou por proteger as colónias de Angola e Moçambique da cobiça da Alemanha, da Bélgica, e da França. Portugal sempre era um velho aliado e, sobretudo, não tinha indústrias que absorvessem os minérios de África. Portugal era um empecilho às pretensões dos alemães, dos belgas e dos franceses , mas não fazia sombra à Inglaterra. Neste aspecto até convinha aos ingleses a posição portuguesa, esta evitava o predomínio de qualquer outra potência europeia. A viagem do rei inglês Eduardo VII a Portugal, em princípios do século 20, acabou por apagar todos os azedumes provocados pelo Ultimato em 1890.
-Após a guerra 14/18 as colónias continuaram intactas devido à cooperação de Portugal no conflito. Quando chegou a altura do rateio, entre os vencedores, Portugal lá estava entre eles. E, para desenvolver o território, conforme se preconizou na Sociedade das Nações após o conflito, lá foi para Angola, outra vez, Norton de Matos. Foi demitido logo que passou o perigo. Um costume que se repetiria mais tarde. Os ardores desenvolvimentistas passavam logo que o horizonte político internacional se desanuviava.
-Durante a década de 20 Portugal foi acusado de praticar trabalho forçado. Foi publicado o Relatório Ross, em 1925, que provocou comentários acres na imprensa mundial. Chegou a insinuar-se que a Sociedade das Nações deveria intervir. O craque da Bolsa de Nova Iorque em 1929 acabou por desviar as atenções.
-Em 1935 novo sobressalto: Hitler começou a mostrar apetites coloniais, chegou a referir-se às antigas colónias alemãs em África. Angola foi mencionada, como pátria de acolhimento, para os judeus que estavam a ser expulsos da Alemanha nazi. A grande guerra 1939-1945 acabou por salvar, mais uma vez, a presença portuguesa em África. Esta ficou, desta vez, com prazo.
-Durante a guerra 1939-1945 o fim do colonialismo foi preconizado pelo presidente Roosevelt mas a sua morte em 1945 lançou tudo no esquecimento.
-Em 1961, quando houve necessidade de intervir militarmente em Angola, Salazar alimentava a esperança de que ia haver uma terceira guerra mundial e, neste caso, a colónia de Angola permaneceria, como despojos, como sucedeu após a guerra 1914-1918. É dele a seguinte frase, citada por Franco Nogueira(159):«Não entrámos na guerra 39/45 mas de certeza que entraremos na próxima». No fundo talvez ele alimentasse a secreta esperança de um novo conflito mundial, que seria devastador, não tenhamos dúvidas, mas que alteraria profundamente o estado do mundo e do qual talvez se pudesse tirar partido como sucedeu após a guerra de 1914-1918.
Sabe-se hoje que o conflito esteve muito perto de acontecer com os atritos relativos à instalação de misseis em Cuba, em 1962, pela União Soviética.
Antes das guerras africanas iniciadas em 1961, na admissão para a Academia Militar em Portugal eram mais os candidatos do que as vagas. A selecção era rigorosa. A partir do início da guerra colonial em 1961 começou a reversão: eram mais as vagas do que os candidatos. Em termos práticos significa que a guerra iria ser comandada “sempre pelos mesmos”. A situação foi-se agravando e acabou por ficar insustentável. Solução: admitir milicianos como candidatos à Academia Militar. Em alguns casos a guerra acabou por apontar para milicianos com mais atitude militar do que os eleitos segundo as regras anteriores, o que confirmava o elitismo vesgo que existia na admissão àquela Academia.
As vagas na Academia Militar, antes de 1961, eram reservadas só para metropolitanos, e para as famílias privilegiadas. Gilberto Freyre, quando visitou Portugal em 1952 apercebeu-se disso, tendo escrito, a propósito, quando esteve na Índia portuguesa(95):«Só os comandantes e oficiais são metropolitanos e brancos. Outra restrição aos direitos de plena cidadania portuguesa sentida pelo luso-indiano. Desde Cabo Verde que ouço à prática portuguesa de impedir-se ao português nascido no Ultramar ocupar cargos de responsabilidade político-militar e de tornar-se oficial do Exército ou das Forças Armadas; e também a discriminação entre português da Metrópole e português do Ultramar, quando funcionários públicos, para efeitos de licenças ou de viagens a Portugal».
Era inevitável o choque. O Ministro da Defesa, que promulgou os Decretos 353/73 e 409/73, que abriam a inacessível porta da Academia Militar aos oficiais milicianos, era o General Sá Viana Rebelo que tinha sido Governador Geral de Angola de 1956 a 1959. O decreto banalizava o curso de oficiais do Quadro, uma situação injusta e desagradável para quem a Academia era emblemática.
Era a causa próxima para o eclodir de uma revolta. Estavam fartos de comissões todos os oficiais do Quadro e, como prémio, recebiam a desvalorização do curso, com o consequente rebaixamento do status e o atraso em promoções.
A opinião pública mundial não alinhava com as razões apresentadas por Portugal, em querer manter as suas colónias. Até o Brasil, embora nunca tivesse sido hostil, punha as suas reticências quando Portugal “era chamado à pedra” nas instâncias internacionais. O ostracismo do país era mais um motivo para o descontentamento dos oficiais e dos portugueses em geral. Ninguém, no mundo, alinhava com os agonizantes imperialismos, nascidos no fim do século 19. Os jovens na Metrópole estavam a ser castigados com incorporações que lhes obstruíam o futuro.
O governo, nos fins de 60, argumentava que a incorporação de Angola era constituída por mais de 50% de naturais da colónia, mas não elucidava que não existia um único oficial subalterno e, muito menos, um oficial superior africano. Até 1961 nem sequer havia sargentos africanos no Exército português. Só “soldados indígenas”. A incorporação militar angolana era acéfala. Quando foi necessário assumir a defesa das populações, porque o Exército Português se desobrigou “de um dia para o outro”, verificou-se uma insólita debandada geral. Os angolanos militarizados não possuíam uma hierarquização de topo nacional. Obedeciam a uma estrutura superior metropolitana e absentista. Na independência do Brasil isto não sucedeu. Mesmo em Angola até 1947, provindo da 1ª república em Portugal, ainda Angola tinha um exército próprio, com oficiais que ficavam a residir em Angola quando se aposentavam, muito embora centralizado sob um comando metropolitano. Em 1947 o governo de Salazar desmantelou toda a ainda incipiente estrutura militar de Angola e centralizou tudo em Lisboa.
Em 1974 o governo já tinha institucionalizado a guerra. A situação militar na Guiné agravava-se de ano para ano. Aquele país africano é pequeno, mas Portugal continha com dificuldade os focos de insubmissão. Volvidos quase 40 anos, quem lê sobre a guerra na Guiné pergunta-se, perplexo: mas qual o interesse de Portugal em relação à Guiné? Salazar temia o desfecho dominó, pois já existia um precedente na Índia Portuguesa.
Os guineenses eram mais unidos e organizados naquela guerra do que hoje, independentes e em tempo de paz. A guerra é sempre mais fácil de fazer do que a paz. Destruir é facílimo.Agora, construir...
O general Spínola, quando foi governador na Guiné, tentou uma aproximação com os nacionalistas, chegou a dialogar com o Presidente do Senegal Leopold Senghor. Mas esbarrou com a intransigência de Marcelo Caetano ( substituiu Salazar em 1968) que insinuou que era mais honrosa uma derrota militar, como já tinha sucedido em 1961 em Goa, Damão e Diu na Índia. Parece que aceitava a derrota como um fatalismo, tal como sucedera com o seu antecessor Salazar no caso da Índia Portuguesa em 1961.
Logo que Marcelo Caetano assumiu o cargo de primeiro ministro em Portugal em Setembro de 1968, devido à precária saúde de Salazar, começaram as desavenças. Spínola e Costa Gomes, dois generais bem conceituados, queriam mudanças mas Caetano era um irresoluto. Tinha medo de tomar qualquer decisão para o Ultramar, embora tivesse apresentado um Parecer sobre uma federação, em 1962, quando não estava no governo.Não teve coragem de o assumir. Depois, no governo, era contrário às ideias então defendidas (uma federação de estados) e, segundo dizem, não queria que se falasse no tal Parecer. A sua desculpa era a de que o Parecer estava ultrapassado.
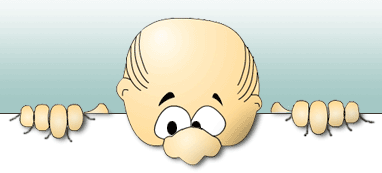
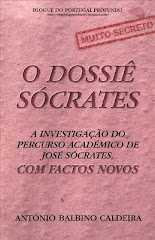



































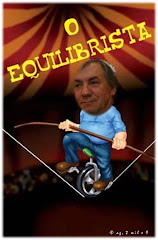
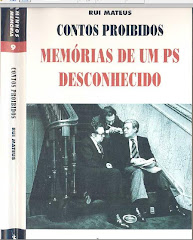






Sem comentários:
Enviar um comentário